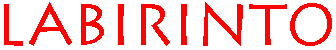Revista Eletrônica do
Centro de Estudos do Imaginário
O IMAGINÁRIO EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS – A TRAVESSIA DO LISO DO SUSSUARÃO
Resenhas
Biblioteca
Entrevistas
Primeiras Notas
CONSELHO EDITORIAL
Arneide Cemin
Ednaldo Bezerra Freitas
Valdir Aparecido de Souza
Resumo
O artigo se propõe a fazer uma leitura da obra Grande
Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa,
especificamente o episódio da primeira travessia do Liso do Sussarão,
observando na mesma a presença dos regimes diurno e noturno das
imagens, como discutidos pelo pensador francês Gilbert Durand, em
suas obras: As estruturas antropológicas do imaginário – introdução à arquetipologia geral (2002) e A imaginação simbólica (1998).
Palavras-chave: Imaginário. Literatura. Linguagem simbólica.
O imaginário em Grande Sertão: Veredas
Grande Sertão: Veredas (GSV) (2001), desde
a sua concepção, já está encharcada de
fortíssimos elementos metafísicos, religiosos e
inconscientes, afora o fato de, por ser uma obra de arte, já
trazer consigo, através da linguagem metafórica,
portanto, cifrada, um manancial de símbolos a serem
interpretados e desvelados. O próprio autor, João
Guimarães Rosa (1908-1967), em uma das missivas enviadas ao seu
tradutor italiano Edoardo Bizzarri, já revelava alguns aspectos
epifânicos de sua criação literária:
Eu, quando escrevo um livro, vou fazendo como se o estivesse “traduzindo”, de algum alto original, existente alhures, no mundo astral ou no “plano das idéias”, dos arquétipos, por exemplo (2003:99).
(...) os meus livros, em essência, são 'anti-intelectuais' – defendem o altíssimo primado da intuição, da revelação, da inspiração sobre o bruxolear presunçoso da inteligência reflexiva, da razão, da megera cartesiana. Quero ficar com o Tao, com os Vedas e Upaxinades, com os Evangelistas e São Paulo, com Platão, com Plotino, com Bergson, com Berdiaeff – com Cristo, principalmente (2003:90).
(...) sou profundamente, essencialmente religioso, ainda que fora do rótulo estricto e das fileiras de qualquer confissão ou seita; antes, talvez, como o Riobaldo do “G. S. : V”, pertença eu a todas. E especulativo, demais. Daí, todas as minhas, constantes, preocupações religiosas, metafísicas, embeberem meus livros. Talvez meio existencialista-cristão (alguns me classificam assim), meio neo-platônico (outros me carimbam disto), e sempre impregnado de hinduísmo (conforme terceiros). Os livros são como eu sou. (Rosa, 2003:90)
O Liso do Sussuarão
O simbolismo presente no nome Liso do Sussuarão é anunciador de inúmeras imagens que podem remeter tanto ao regime diurno quanto ao regime noturno da antropologia do imaginário durandiano.
O adjetivo “liso” pode indicar uma região “Cuja superfície é plana ou sem asperezas” (Ferreira, 1986:1039), conclusão essa a que se chega pela leitura da descrição dos elementos que enformam a região na primeira travessia: pobreza de fauna e flora e desolamento geográfico. Na segunda travessia, já sob o comando do Urutú-Branco (apelido de Riobaldo, após o misterioso pacto nas Veredas-Mortas), essa descrição se altera radicalmente, chegando o Liso a assemelhar-se mesmo a um paraíso ecológico. Porém, o “liso” como uma “superfície plana e sem asperezas” pode distender-se em claridade ofuscante e sem sombras, como indica Durand: “(...) os processos de gigantização imaginária se acompanham sempre de 'luz implacável... brilhante... que cega... impiedosa'. (...). Neste caso (...) estamos diante de uma obsessão angustiada da luz, do brilhante e do liso” (grifo nosso, 2002:146). O “liso” também pode se traduzir em engolimento suave e deslizante e em descida macia, como na rítmica sexual.
“Sussuarão” pode ser tomado como o substantivo masculino de “sussuarana”, que se observa com a variação “suassurana”, em O léxico de Guimarães Rosa,
SUASSURANA. (V. PUMA), – (...) Mamífero carnívoro, da família dos felídeos; onça parda. (...) Do tupi suasua'rana; apresenta diversas vars. a mais usual, dic., é suçuarana (Martins, 2001:470).
Segundo Ronecker, O jaguar “aparece (...) como antepassado nos mitos brasileiros concernentes à origem do fogo: ele é então um animal civilizador, depositário e primeiro utilizador do fogo (...)” (1997:240). O isomorfismo desse animal predador com o fogo tornará o engolimento ainda mais insuportável, pois incluirá a combustão inclemente de gases e líquidos digestivos. No entanto, toda essa simbologia diurna e terrificante do “sussuarão” pode também se eufemizar em símbolo noturno, através da delicadeza e da domesticidade do gato, da mesma família dos felídeos.
A travessia
Os bogós de couro foram enchidos nas nascentes da lagoa, e enqueridos nas costas dos burrinhos. Também tínhamos trazido jumentos, só modo para carregar. (...). Cada um pegava também sua cabaça d'água, e na capanga o diário de se valer com o que comer – paçoca. (...). Seis novilhos gordos a gente repontava, serviam para se carnear na rota (GSV, 63).
Conforme a região do Liso era acercada, a fauna e a flora, gradativamente, iam empobrecendo em quantidade e em qualidade:
Mas o terreno aumentava de soltado. E as árvores iam se abaixando menorzinhas, arregaçavam saia no chão. De vir lá, só algum tatú, por mel e mangaba. Depois, se acabavam as mangabaranas e mangabeirinhas. Ali onde o campo largueia. Os urubus em vasto espaceavam. Se acabou o capinzal de capim-redondo e paspalho, e paus espinhosos, que mesmo as moitas daquele de prateados feixes, capins assins. Acabava o grameal, naquelas paragens pardas. Aquilo, vindo aos poucos, dava um peso extrato, o mundo se envelhecendo, no descampante. Acabou o sapé brabo do chapadão (GSV, 63)
A gente olhava para trás. Daí, o sol não deixava olhar rumo nenhum. Vi a luz, castigo. (...). Achante, pois, se estava naquela coisa – taperão de tudo, fofo ocado, arreveso. Era uma terra diferente, louca, e lagoa de areia. Onde é que seria o sobejo dela, confinante? O sol vertia no chão, com sal, esfaiscava. De longe vez, capins mortos; e uns tufos de seca planta – feito cabeleira sem cabeça. As-exalastrava a distância, adiante, um amarelo vapor. E fogo começou a entrar, com o ar, nos pobres peitos da gente (GSV, 63-64).
O pacto! Se diz – o senhor sabe. Bobéia. Ao que a pessoa vai, em meia-noite, a uma encruzilhada, e chama fortemente o Cujo – e espera. Se sendo, há-de que vem um pé-de-vento, sem razão, e arre se comparece uma porca com ninhada de pintos, se não for uma galinha puxando barrigada de leitões. Tudo errado, remedante, sem completação... O senhor imaginalmente percebe? O crespo – a gente se retém – então dá um cheiro de breu queimado. E o dito – o Coxo – toma espécie, se forma! Carece de se conservar coragem. Se assina o pacto. Se assina com sangue de pessoa. O pagar é a alma (GSV, 64).
A gente viemos do inferno – nós todos – compadre meu Quelemém instrui. Duns lugares inferiores, tão monstro-medonho, que Cristo mesmo lá só conseguiu aprofundar por um relance a graça de sua sustância alumiável, em as trevas de véspera para o Terceiro Dia. Senhor quer crer? Que lá o prazer trivial de cada um é judiar dos outros, bom atormentar; e o calor e o frio mais perseguem; e, para digerir o que se come, é preciso de esforçar no meio, com fortes dores; e até respirar custa dor; e nenhum sossego não se tem (GSV, 64-65).Compara esse inferno com as atitudes cruéis e homicidas de certos homens no plano terrestre, levando-o a suspeitar se tais seres não teriam escapado ou sido liberados do reino de Lúcifer antes do tempo,
Repenso no acampo da Macaúba da Jaíba, soante que mesmo vi e assaz me contaram; e outros – as ruindades de regra que executavam em tantos pobrezinhos arraiais: baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos, cortando línguas e orelhas, não economizando as crianças pequenas, atirando na inocência do gado, queimando pessoas ainda meio vivas, na beira de estrago de sangues... Esses não vieram do inferno? Saudações. Se vê que subiram de lá antes dos prazos, figuro que por empreitada de punir os outros, exemplação de nunca se esquecer do que está reinando por debaixo (GSV, 65).A essas duas dimensões do inferno – a primeira metafísica, em que os homens estão subordinados ao poder e à vontade de um ser demoníaco; a segunda, humana, em que os homens fazem prevalecer a sua vontade, o seu livre-arbítrio – se juntava a que Riobaldo vivia no momento: a travessia do inferno do Liso, agora transmutado na figura do órgão digestivo de um sussuarão-monstrengo, essa não mais metafísica nem humana, mas imposta pela natureza:
Mas mor o infernal a gente também media. Digo. A igual, igualmente. As chuvas já estavam esquecidas, e o miolo mal do sertão residia ali, era um sol em vazios. A gente progredia dumas poucas braças, e calcava o reafundo do areião – areia que escapulia, sem firmeza, puxando os cascos dos cavalos para trás. Depois, se repraçava um entranço de vice-versa, com espinhos e restolho de graviá, de áspera raça, verde-preto cor de cobra. Caminho não se havendo. Daí, trasla um duro chão rosado ou cinzento, gretoso e escabro – no desentender daquilo os cavalos arupanavam (GSV, 65).
Os companheiros se prosseguindo, só prosseguindo, receei ter um vágado – como tonteira de truaca. Havia eu de saber por que? Acho que provinha de excessos de idéias, pois caminhadas piores eu já tinha feito, a cavalo ou a pé, no tosta sol. Medo, meu medo. Agüentei (GSV, 66).Apesar de Riobaldo ter experimentado outras travessias, embaixo de sóis mais terrificantes e doídos, essa se mostrava diversa, estranha, inusitada, ao ponto de bulir com sua coragem e lhe causar temor, dado o oculto que ainda estava por vir e que ele não sabia o que seria. Riobaldo é um herói humano, de carne-e-osso, espírito e pensamento, portanto, passível de dores e tormentos.
A vertigem, véspera da queda, provocada pelas pressões do ambiente, tornam o mundo, a natureza, o sol, os alforjes, as armas, as roupas, o corpo, o pensamento e os sentimentos demasiado pesados e empurram o homem para baixo, para o chão, para o cansaço e para a caída,
Tanto tudo o que eu carregava comigo me pesava – eu ressentia as correias dos correames, os formatos. A com légua-e-meia de andada, bebi meu primeiro chupo d'água, da cabaça – eu tinha avarezas dela. Alguma justa noção não emendei, eu pensava desconjuntado. Até que esbarramos. Até que, no mesmo padrão de lugar, sem mudança nenhuma, nenhuma árvore nem barranco, nem nada, se viu o sol de um lado deslizar, e a noite armar do outro. Nem auxiliei a tomar conta dos bois nem a destravar os burros da albarda. Onde era que os animais iam poder pastar? Noite redondeou, noite sem boca. Desarreei, peei o animal, caí e dormi (GSV, 66).Com a chegada do anoitecer, os jagunços experimentaram o seu quinhão de alívio. A noite surge aqui, não como uma solução definitiva para o calor e claridade opressivos, mas como uma breve sombra que logo se deslocará, conforme o astro-rei cumpra seu sobrevôo sobre a outra banda da Terra. Riobaldo, tendo ao seu lado a presença de Diadorim, recebe do mesmo um frágil estímulo quanto ao prosseguimento da travessia: “Pois dorme, Riobaldo, tudo há de resultar bem...” (GSV, 66). Essas palavras soaram aos ouvidos do herói rosiano com esmaecida esperança, mas tendo sido elas pronunciadas por Diadorim, a quem ele dedicava um sentimento ambivalente de amizade e paixão, mutaram em aprazível deleite: “Antes palavras que picaram em mim uma gastura cansada; mas a voz dele era o tanto-tanto para o embabo do meu corpo” (GSV, 66). Riobaldo chegou a sonhar: “Noite essa, astúcia que tive uma sonhice: Diadorim passando por debaixo de um arco-íris” (GSV:66).
Talvez seja difícil supor como que numa situação extremamente adversa, desconfortável e dolorosa, se possa pensar em gestos atenuantes e em atitudes eufemizantes, já que o desejo fundamental é escapar definitivamente das garras de quem oprime e tortura. Durand esclarece esse paradoxo, como sendo a dinâmica compensatória do imaginário. As pressões psicológicas e/ou físicas impostas pelo ambiente ao ser humano fazem com que este busque compensá-los com procedimentos conscientes ou inconscientes, para Durand, “A psicanálise evidenciou claramente esses curiosos fenômenos de 'compensação' representativa na qual a imagem tem por missão suprir, contrabalançar ou substituir uma atitude pragmática” (2002:381). De forma onírica, portanto inconsciente, Riobaldo, ao mesmo tempo que amaina a luta diurna contra o “sussuarão”, vislumbra a solução de dois dilemas: um imediato, a busca do alívio do calor, pelo mergulho no simbolismo do arco-íris, que remete às águas abundantes do dilúvio bíblico; outro sem prazo para consumação: o amor por Diadorim, haja vista, reza o mito, que no fim do arco-íris há um tesouro esperando por quem ousar buscá-lo.
No imaginário noturno durandiano, o amanhecer quer significar vida nova, novas possibilidades, força restituída, a luz do sol prenuncia uma outra chance e oportunidade de uma existência melhor. No entanto, para quem amanhece nas entranhas de um sussuarão gigante, só pode esperar que o novo dia seja muito mais atormentado que o anterior, é o que Riobaldo revela:
Como vou achar ordem para dizer ao senhor a continuação do martírio, em desde que as barras quebraram, no seguinte, na brumalva daquele falecido amanhecer, sem esperança em uma, sem o simples de passarinhos faltantes? (GSV:66).O imaginário diurno, segundo Durand, é estabelecido por um estrutura esquizomórfica que conduz o ser humano a um racionalismo que anseia por tudo separar, circunscrever, delimitar, avaliar. Esse racionalismo, alcançando a patologia, conduz os ser humano, paradoxalmente, a uma perda de intimidade com a realidade, a um determinado autismo em que prevalece uma supervalorização de seu próprio ponto de vista. Para Durand,
Esse recuo, essa distância posta entre o doente e o mundo, cria bem a atitude de representação a que chamamos 'visão monárquica', e o psiquiatra, por sua vez, pode falar a propósito de 'torre de marfim', uma vez que este se afasta completamente do mundo 'para olhar de cima, como aristocrata, os outros a debater-se...'” ( 2002:185) .Sem dúvida, Riobaldo não estava esquizofrênico, mas a insuportabilidade circunstancial em que ele estava envolto trazia-lhe à mente a possibilidade de que talvez não conseguisse escapar a esse infortúnio, dúvida essa que colocava diante de seus olhos o vulto da morte. Com isso, a sua racionalidade acumulada de si mesma analisa a realidade doentiamente, colocando-o numa posição de superioridade para apontar culpados e subavaliar seus companheiros:
Não destruí aqueles pensamentos: ir, e ir, vir – e só; e que Medeiro Vaz estava demente, sempre existindo doidamente, só agora pior, se destapava – era o que eu tinha rompência de gritar. E os outros, companheiros, que é que os outros pensavam? Sei? De certo nada e noves – iam como o costume – sertanejos tão sofridos. Jagunço é homem já meio desistido por si... (GSV, 67).E o inferno prevalecia ante o desejo heróico de libertar-se do mesmo por parte de Riobaldo e de seus infelizes companheiros. A imaginação diurna de Riobaldo não perdia um só detalhe no esquadrinhamento doentio da realidade. Todas as reações dos jagunços, os gestos “humanos” dos cavalos, os silêncios, os ruídos, as ausências e presenças de cores e nuances da paisagem e das pessoas eram descritos por ele com capricho rigoroso e precisão analítica:
A calamidade de quente! E o esbraseado, o estufo, a dôr do calor em todos os corpos que a gente tem. Os cavalos venteando – só se ouvia o resfol deles, cavalanços, e o trabalho custoso de suas passadas. Nem menos sinal de sombra. Água não havia. Capim não havia. A debeber os cavalos em cocho armado de couro, e dosar ao meio, eles esticando os pescoços para pedir, eles olhavam como para seus cascos, mostrando tudo o que cangavam esforço e cada restar de bebida carecia de ser poupado. Se ia, o pesadêlo. Pesadêlo mesmo, de delírios. Os cavalos gemiam de descrença. Já pouco forneciam. E nós estávamos perdidos. Nenhum pôço não se achava. Aquela gente toda sapirava de olhos vermelhos, arroxeavam as caras. A luz assassinava demais. E a gente dava voltas, os rastreadores farejando, , procurando. Já tinha quem beijava os bentinhos, se rezava (GSV, 67).Se na noite anterior, a imaginação de Riobaldo compensara os dissabores do dia com a matéria inconsciente do sonho, agora, em vigília, uma outra espécie de sublimação imaginativa vem em seu socorro: a memória: “Repensei coisas de cabeça-branca” (GSV, 67). A lembrança de um passado idílico e prenhe de prazeres o liberta, momentaneamente, das agruras de um presente demasiado opressivo. A rememoração da presença noturna da feminilidade da mulher, ao mesmo tempo maternal e erótica, redimensiona o ponto de vista riobaldiano diante do caos, renovando-lhe a humanidade e, conseqüentemente, a esperança. Nas palavras de Durand, “(...) o eufemismo deixa transparecer a feminilidade” (2002:222):
A saudade que me dependeu foi de Otacília. Moça que dava amor por mim, existia nas Serras dos Gerais – Buritis Altos, cabeceira de vereda – na Fazenda Santa Catarina. Me airei nela, como a diguice duma música, outra água eu provava. Otacília, ela queria viver ou morrer comigo – que a gente se casasse. Saudade se susteve curta desde uns versos:A saudade funciona assim como uma evasão do tempo e do espaço. O relembramento de Riobaldo é um gesto imaginativo a que ele recorre buscando a superação do desconforto do presente imediato. Não podendo pensar no porvir, posto que, as circunstâncias materiais em que se encontra só lhe permite imaginar um desfecho trágico: o seu próprio fim, busca num passado recente a vivência de momentos felizes e imortalizados por sua memória. Sabiamente, Mnemosyne trabalha em seu favor, trazendo a imagem do feminino consubstanciada em duas figuras: Otacília, representando um porto seguro, o reaparecimento da presença materna, ajudadora e aconchegadora, o seu amor de ouro e, Diadorim, presença fugidia e aventureira, uma neblina interpondo-se entre uma forte amizade e uma paixão arrebatadora, o seu amor de prata. Se Otacília simboliza o retorno a um passado com garantias de um bem viver (casinha da banda esquerda), os olhos verdes de Diadorim apontam para um futuro carregado de incertezas e ainda a ser construído, por isso mesmo, irrecusável (olhos de onda do mar). Equilibrando-se na corda bamba do tempo, Riobaldo, o herói rosiano em luta contra o sussuarão, é instigado pelo pendor feminino a tomar alguma atitude. E foi o que ele fez:
Buriti, minha palmeira,
lá na vereda de lá:
casinha da banda esquerda,
olhos de onda do mar...
Mas os olhos verdes sendo os de Diadorim. Meu amor de ouro e meu amor de prata (GSV, 68).
Ouvi minhas veias. Aí, a rumo, eu pude pegar a rédea do animal de Diadorim – aquelas peças doeram na minha mão – tive que fiquei um instante inclinado. – “Daqui, deste mesmo de lugar, mais não vou! Só desarrastado vencido...” – mas falei. Diadorim pareceu em pedra, cão que olha. Contanto me mirou a firme, com aquela beleza que nada mudava. – “Pois vamos retornar, Riobaldo... Que vejo que nada campou viável...” “Tal tempo!” – truquei, mais forte, rouco como uma guariba. Foi aí que o cavalo de Diadorim afundou aberto, espalhado no chão, e se agoniou. Eu apeei do meu (2001:69).Depois de ter testemunhado, perplexo, os vários reveses por que passavam ele e seus companheiros,
O Miquím, um rapaz sério e sincero, que, muito valia em guerreio, esbarrou e se riu: – “Será que não é sorte?” Depois se sofreu o grito de um, adiante: – “Estou cego!...” Mais aquele, o do pior – caíu total, virado tôrto; embarançando os passos das montadas. De repente, um rosnou, reclamou baixo. Outro também. Os cavalos bobejavam. Vi uma roda de caras de homens. Suas as caras. Credo como algum – até as orêlhas dele estavam cinzentas. E outro: todo empretecido, e sangrava das capelas e papos-dos-olhos (GSV, 69),Riobaldo sente-se forte o bastante para decidir por si mesmo de não mais ser engolido pelo esôfago do sussuarão, e, ao fazê-lo, decide também por seus companheiros, desafiando as ordens do comandante. O primeiro a apoiar o seu gesto é Diadorim, o que faz com que o chefe Medeiro Vaz capitule de seu intento, sugerido por quem agora apela por seu abandono: Diadorim
Medeiro Vaz estava ali, num aspeito repartido. Pessoal companheiro, em redor, se engasgavam, pelo o resultado. – “Nós temos de voltar, chefe?” – Diadorim solicitou. Acabou de falar, e parou um gesto, para nós, a gente sofreasse. Tom bom; mas se via que Medeiro Vaz não podia outro querer, a não ser o que Diadorim perguntava. Medeiro Vaz, então - por primeira vez – abriu dos lados as mãos, de nada não poder fazer; e ele esteve e ombros rebaixados. Mais não vi, e entendi. Peguei minha cabaça, bebi gole, amargo de felém. Mas era mesmo o final de s voltar, Deus me disse (GSV, 69).Riobaldo e os “medeiros-vazes”, sendo um alimento de sabor não palatável, de digestão difícil e tendo provocado desconforto intestinal, fez com que o sussuarão os vomitasse, rejeitando-os como a um mal bocado, “Saímos dali, num pintar de aurora” (GSV, 70).
As lições da simbologia da travessia do Liso do Sussuarão
A atitude heróica de Medeiro Vaz e seus comandados no enfrentamento ao monstro susssuarão malogra no limite mesmo da capacidade humana de suportar as adversidades. A imaginação, humana conselheira, agindo às vezes consciente, às vezes inconscientemente, recobre as atitudes e decisões dos seres humanos, dando-lhes pistas, vestígios e sinais que implicam, necessariamente, em interpretações. Trata-se do constante irrompimento do vaticínio da esfinge: “Decifra-me ou devoro-te” a exigir do ser humano a sagacidade de se abrir à epifania do mistério. Para tanto, mais fiável é o que há de revelador, de intuitivo e de inspirador, portanto, de labiríntico, na busca dessa decifração, do que o resguardo na aparente segurança do conceitual e do analítico, como sugere a “megera cartesiana”.
O símbolo é epifania. Segundo Durand, “O símbolo (...) é a recondução do sensível, do figurado, ao significado, mas, além disso, pela própria natureza do significado, é inacessível, é epifania, ou seja, aparição do indivisível, pelo e no significante” (1988:14-15). Nesse sentido, a presença dos símbolos na obra literária carecerá sempre de uma hermenêutica não preconceituosa e interdisciplinar, ou de uma convergência de hermenêuticas, nas palavras de Durand, para alcançar a revelação de seus inesgotáveis sentidos.
(...) o não-sensível em todas as suas formas, inconsciente, metafísica, sobrenatural e supra-real. Essas “coisas ausentes ou impossíveis de se perceber” por definição acabarão sendo, de maneira privilegiada, os próprios assuntos da metafísica, da arte, da religião, da magia: causa primeira, fim último, “finalidade sem fim”, alma, espíritos, deuses etc (1998:15).Nesse sentido, a literatura como obra de arte, será um lócus privilegiado para a manifestação epifânica de símbolos, através da presença, latente ou patente, de elementos míticos, inconscientes e metafísicos.
Os símbolos se estendem através do significante. Durand afirma que
O termo significante, o único concretamente conhecido, remete em 'extensão', se podemos assim dizer, a todas as espécies de 'qualidades' não figuráveis, e isso até a antinomia. É assim que o signo simbólico, 'o fogo', aglutina os sentidos divergentes e antinômicos do 'fogo purificador', do 'fogo sexual' e do 'fogo demoníaco e infernal' (1988:16).Na literatura, portanto, o significante ganha o potencial da reversibilidade, fazendo com que a presença de determinado símbolo possa pertencer ao regime diurno ou ao noturno, conforme sua aparição se configure.
Os símbolos se dispersam através do significado:
(...) o termo significado, concebível na melhor das hipóteses, mas não representável, se dispersam em todo o universo concreto: mineral, vegetal, animal, astral, humano, 'cósmico', 'onírico' ou 'poético'. É assim que o 'sagrado', ou a 'divindade', pode ser designado por qualquer coisa: uma pedra elevada, uma árvore gigante, uma águia, uma serpente, um planeta, uma encarnação humana como Jesus, Buda ou Krishna, ou até mesmo através do apelo à infância que reside em nós (Durand, 1988:16)A riqueza da dispersão semântica dos símbolos na literatura permite, assim, a exploração do imaginário criativo, formal e conteudístico que a engendra.
REFERÊNCIAS
DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário – introdução à arquetipologia geral. São Paulo: Martins Fontes, 2002. (Trad. Hélder Godinho).
DURAND, Gilbert. A imaginação simbólica. São Paulo: Cultrix, Editora Da Universidade de São Paulo, 1988. (trad. Liliane Fitipaldi).
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
MARTINS, Nilce Sant'Anna. O léxico de Guimarães Rosa. 2 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
RONECKER, Jean-Paul. O simbolismo animal: mitos, crenças, lendas, arquétipos, folclore, imaginário... . São Paulo: Paulus, 1997.
ROSA, João Guimarães. Correspondência com seu tradutor italiano Edoardo Bizzarri. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora UFMG, Nova Fronteira, 2003.
ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 19 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
NOTAS
Mestre e doutorando em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Goiás. Professor da Faculdade Araguaia (Goiânia-GO) e da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia-GO.
Volta
CEI - UNIR
Todos os Direitos Reservados.