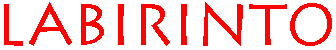Revista Eletrônica do
Centro de Estudos do Imaginário
Resenhas
Biblioteca
Entrevistas
Primeiras Notas
CONSELHO EDITORIAL
Arneide Cemin
Ednaldo Bezerra Freitas
Valdir Aparecido de Souza
Resumo
A condição humana emerge da relação
paradoxal entre vivo e não vivo, natureza e cultura, inato e
adquirido. O corpo do humano está tatuado pelas
lembranças das experiências corporais de outras
espécies. A partir sobretudo das pesquisas do etólogo
Boris Cyrulnilk, das hipóteses sobre o vivo de Henri Atlan e das
idéias de Edgar Morin, o artigo discute os fracos limites entre
a biologia e o domínio dos sentidos e da
simbolização que fundamentam o processo cognitivo e a
consciência do corpo na espécie humana.
Palavras-chave: Complexidade, natureza e cultura.
Meias Verdades
Desde que nascemos, temos escutado, aprendido e vivenciado
tudo de forma parcial, pela metade. Nada de estranho nisso, uma vez que
a incompletude, o inacabamento, a parcialidade e a falta parasitam e
constituem a condição humana. Nisso reside a
tragédia e a aventura do viver que são também,
para Edgar Morin, a tragédia e a aventura do conhecer. Ao lado
da procura do sentido, do “por quê”, do “como funciona”, do “onde começou”,
caminham respostas provisórias e prováveis, nunca
respostas inequívocas, absolutamente satisfatórias,
completas e incontestáveis.
Se essa é uma forma de descrever o processo cognitivo,
podemos acrescentar que cada avanço de conhecimento é uma
sutura no sempre esgarçado tecido da compreensão do
mundo. A evolução do conhecimento é uma
repetição do movimento oscilatório entre responder
perguntas e formular novas questões. Essa compreensão do
conhecimento habita hoje o coração da ciência e, em
certa sintonia com a consciência do provisório e da
parcialidade das explicações, o conhecimento
científico tem se afastado cada vez mais da
convicção de que o que dizemos a partir das teorias e
interpretações corresponde à realidade tal qual
ela é. Sabemos hoje que uma tal convicção
corresponde a confundir a descrição da realidade com ela
própria. Desde 1901 essa ilusão da ciência ruiu, e
foi Niels Bohr quem disse não ser possível afirmar 'isto
é assim', mas, 'é isso que podemos dizer de tal ou qual
fenômeno'.
Desse modo, o que até o final do século XIX não
era percebido com clareza ou não era enunciado pelos cientistas
deve hoje, cada vez mais, ser anunciado, problematizado, explicitado e
dito em alto e bom som: todo conhecimento sobre qualquer fenômeno
é uma construção a partir de indícios,
pistas, sinais. Conectados entre si, segundo regras de proximidade,
ressonância ou mesmo causalidades, esses indícios passam a
construir, juntos, uma representação que oferece sentido
ao fenômeno do qual se fala, mas que, nem por isso é o
próprio fenômeno, nem o substitui. Além do mais,
como o erro parasita a aptidão para conhecer, somos muitas vezes
levados a fazer conexões entre indícios e pistas que nada
têm entre si. Essa atitude mental resulta no que Umberto Eco
chama de super interpretação (1993). Sejam mais
propriamente sociais ou mais estritamente físicos, os
fenômenos aos quais imputamos um sentido estão sempre para
além ou para aquém de sua descrição e
representação.
A esse respeito, inúmeras considerações e
importantes desdobramentos têm constituído o campo das
reflexões epistemológicas na ciência. E se a
aspiração de abraçar a totalidade dessas
reflexões equivale a um projeto fadado ao fracasso, podemos pelo
menos identificar alguns dos limites e armadilhas que cercam o ato de
pensar e conhecer.
Limites do biológico, do sociológico, do antropológico
Muitas vezes percebemos e pensamos o mundo pelo mecanismo mental da
simplificação. Por vezes nossa forma de pensar opera uma
redução e nos fixamos em apenas um dos domínios do
fenômeno do qual falamos. A fragmentação
disciplinar operada pela ciência, isto é, a falta de
comunicação entre os conhecimentos dos especialistas,
oferece excelentes exemplos a esse respeito. O cérebro humano,
foi muitas vezes descrito como um conjunto de mecanismos
eletroquímicos. Outras vezes, e por outras lentes
teóricas, foi reduzido a um operador da repetição
de episódios arquetipais psíquicos arcaicos. Quanta
redução da sociobiologia ao afirmar uma analogia
desmedida entre nossa constituição genética e a
dinâmica da sociedade! Um biologismo exarcebado se fixou no
determinismo do código genético, tatuado em nós,
é verdade, mas esqueceu que a genética é,
sobretudo, uma promessa que, a depender de múltiplos fatores,
repetirá o padrão previsto ou inaugurará o
percurso da deriva e da metamorfose. E isso, mesmo considerando as
condições pré-bióticas que antecede ao
biológico propriamente dito, ou seja, ao domínio da vida.
Em o Paradigma Perdido (1979), Edgar Morin circunstancia o estado da
arte do conhecimento científico a respeito dos estudos sobre a
vida e o homem por volta dos anos 40 e 50 do século passado.
Para ele, "a biologia estava encerrada no biologismo, ou seja, uma concepção fechada no organismo, tal como a antropologia no antropologismo,
ou seja, uma concepção insular do homem" (1979). Esses
dois sistemas de idéias epistemologicamente fechados acabaram
por abrir-se em decorrência da assimilação de
noções emergentes na Teoria da Informação
(Shannon) e na Cibernética (Wiener), por volta de 1948 e 49. A
biologia passa então a recorrer a princípios
organizacionais desconhecidos na química:
informação, código de mensagens, programas, etc.
Por outro lado, a partir sobretudo dos anos 60 a idéia de máquina como uma totalidade organizada e não redutível a seus elementos constitutivos, a noção de sistemas que se auto-organizam apesar de e com desordem, ruído e erro (Von Neumann, Von Foerster, Henri Atlan), a idéia de acaso organizador e de catástrofe (J. Monod, René Thom) e, enfim, a idéia de autopoesis
como processo de autoprodução permanente (H. Maturana)
acabam por redimensionar a compreensão dos sistemas vivos, da
vida e do homem. Esse panorama da história do conhecimento
científico deve ser considerado um avanço na medida em
que, nas palavras de Morin "não é somente o homem que
não pode ser reduzido à biologia, é a
própria biologia que não pode ser reduzida ao biologismo
(1979, p. 55).
Nada melhor para falar da deriva e da não
repetição, do que as hipóteses sobre o
aparecimento da vida na Terra. A emergência da vida no planeta
demonstra um “ponto de bifurcação”,
expressão de Ilya Prigogine para falar da ocorrência de
novos acontecimentos, da emergência de situações
novas, inaugurais. A idéia da configuração
genética como uma promessa que conjuga determinismo, incerteza e
probabilidade (sobretudo hoje, na era da bio-engenharia) abala os
pilares de um biologismo fechado e enfraquece o pensamento redutor na
área das ciências biológicas. Ao afirmar a
provocativa hipótese do tênue limite entre o vivo e o
não vivo, as pesquisas do médico e biofísico Henri
Atlan se constituem uma verdadeira revolução copernicana
nos estudos sobre a vida. “Contrariamente ao que se concebia
antigamente, as fronteiras entre o vivo e o não vivo tendem a se
apagar e é difícil decidir sobre o lugar onde devemos
colocar uma barreira, ou mesmo se existiria alguma” (2000).
É evidente que a superação de um biologismo
fechado e redutor requer reativar a consciência de que não
viemos do mesmo mas do outro. Essa consciência, que segundo
Sigmund Freud correspondia a uma ferida narcísica,
provocou um abalo sísmico na concepção da
condição humana e expõe hoje, novamente, sua
cicatriz.
Agora sabemos que a emergência da condição humana
se deu pela deriva e bifurcação do 'outro'. Sabemos
também que a vida que nos habita e constitui surgiu do
não vivo. Para Atlan “não podemos mais aceitar a
visão tradicional de uma barreira absoluta criando uma
divisão entre, de um lado, corpos puramente materiais e, de
outro, corpos vivos e conscientes animados por uma alma
imaterial”(op. cit.). Entretanto, como em todo momento de
mudança paradigmática, a metamorfose do pensamento
instituído não é fácil. E isso porque,
conforme Atlan, “a idéia secular que nós
próprios fazemos do homem repousa precisamente sobre essa
divisão” (idem). Como poderíamos nós, sem
enormes resistências, nos perceber em simbiose com o mundo dos
sistemas não vivos, se ainda hoje usamos a expressão os homens e os animais, quando com mais propriedades, deveríamos usar os homens e os outros animais?
Mas não é só nas ciências da vida que o
pensamento opera por simplificação ou
redução. A biofobia,
isto é, o horror a tudo que lembra o biológico, marcou
durante muito tempo o conhecimento nas chamadas ciências humanas
e sociais. Um sociologismo, um economicismo, um historicismo e um
antropologismo primaram em explicar a cultura, a sociedade e a
condição humana de forma cindida e esquizofrênica,
quase sempre isolando-as das contigências biológicas. Uma
anatomia perversa esquartejou o sujeito: homo-economicus, faber, um
produto do passado, um singular étnico, um autômato
simbólico, uma entidade mítica. Essas fraturas e
'determinações em última instância'
desenharam um homem esquadrilhado por territórios sem
ligação, um sujeito disforme e mal remedado, uma cocha de
retalhos com costura grossa. Ao se olhar refletido no espelho da
ciência da fragmentação disciplinar, um
Frankenstein se deu conta do poder da palavra que cria a coisa e tomou
consciência do castigo da decifração
impossível que lhe foi imposto. Quem sou: natural ou social?
Individual ou coletivo? Mítico ou racional? Um ser de liberdade
ou um escravo? Produto ou produtor? Um ser genérico ou singular?
Um experimentador de quimeras e utopias ou uma ferramenta da
razão? Inato ou adquirido?
Na trincheira das disjunções e oposições
inconciliáveis só restava aos cientistas dos
últimos séculos optar, operar por exclusão,
secundarizar dimensões, principalizar outras, reduzir, reduzir,
... E, se para o Frankenstein diante do seu espelho as perguntas foram
enigmáticas, para o cientista, esse demiurgo da
criação do mundo pelas palavras, as respostas foram sendo
construídas segundo expressões emblemáticas que
sintetizam, lamentavelmente muito bem, uma parte da história da
ciência: Freud disse, Marx disse, Piaget disse, Darwin disse,
Morin disse, Paulo Freire disse...
Será? Será que Freud, Durkheim, Darwin, Piaget, disseram
com tanta ênfase argumentos que foram posteriormente
cristalizados como metaexplicações? Por que a
divisão entre um Marx humanista, outro economista, outro
filósofo, outro historiador? Por que a separação
entre o velho e novo Marx? Entre o Marx das “Cartas à
Índia” e o de “O Capital”? E ao Marx leitor de
Balzac, como chamaremos? Como é possível que pensadores
que ultrapassaram seu tempo, porque pensaram a cultura humana de
maneira multidimensional, puderam ser transformados em mentores de
receitas disciplinares sobre o mundo e o homem? Somente pela armadilha
do pensamento redutor, armadilha que nos parasita a todos (na
ciência e fora dela), foi possível operar certos
equívocos, reduções e simplificações.
Tomar a parte pelo todo, separar a teoria da prática, o saber do
fazer, o sujeito do objeto e o corpo da mente, são alguns desses
equívocos cognitivos que acabaram por comprometer nossa forma de
entender o mundo e a nós mesmos.
Certamente é possível acionar outros pólos
cognitivos para conhecer e viver, para projetar e fazer acontecer
formas de pensar e viver a condição humana. E se
não é possível afastar por completo as armadilhas
do pensamento redutor, assumamos o paradoxo do conhecimento humano
sempre incerto, parcial, inacabado. Talvez assim, a ciência se
comprometa mais com o aqui e agora
de que tanto fala Michel Maffesoli e abra mão do 'evangelho da
salvação' prometido para um futuro que nunca chega.
Assumir a ciência como uma leitura do mundo parcial e como uma
meia verdade é um passo importante para alimentar o
diálogo com outras meias verdades contidas nas
constelações de saberes outros, não
científicos. Entretanto, mesmo que a parcialidade parasite o ato
cognoscente é no ponto de interseção entre
natureza e cultura que está o desafio da compreensão do
mundo.
Ao obstáculo epistemológico que apregoa de certa forma ingênua a apreensão da realidade
(expressão fortemente repetida nos receituários de
pesquisa), agregamos um outro. Somos um corpo que pensa, sente, elabora
construções narrativas, cria sentidos. É esse
mesmo corpo que pensando-se a si próprio constrói sua
representação. Essa armadilha do conhecimento prefigurada
na auto-representação e da qual podemos fugir, apenas
parcialmente, sugere que devemos sombrear, acertar o domínio do
parcialmente secreto, do indecifrável, do indizível.
Longe da obsessão da decifração, podemos, como
Dietmar Kamper, nos afastar da tirania do conceito que pensa decifrar a
realidade, e também do encarceramento da
definição, essa forma excessivamente prosaica que
violenta a poesia da vida. “Definir”, diz Kamper,
“é sempre uma forma de matar” (1997, p. 13).
É pois, no interior do paradoxo do corpo que fala do corpo, da
vida que fala da vida, das idéias que avaliam as idéias
que teremos que nos mover. É do interior desse paradoxo que o
cientista abre mão do compromisso com o conceito, para atar os
nós do compromisso com a vida que, nas palavras de Kamper,
"é mais um imperativo do que um conceito" (idem, idem).
Na cosmologia dos conhecimentos sistematizados pela cultura humana,
diversas e distintas constelações de saberes se
interpõem entre o sujeito e o mundo e se constituem em
verdadeiros filtros ou senhas cognitivas. E isso porque nunca vemos o
mundo de forma direta. Vemos sempre através de
representações. Esse fato tem, pelo menos, duas
implicações: uma do ponto de vista exclusivamente humano,
outra que diz respeito a qualquer animal.
No primeiro caso, o da percepção humana, podemos dizer
que cada um de nós vê e compreende o mundo, a sociedade e
a nós mesmos, a partir de nossas convicções,
teorias, valores, mas também, e simultaneamente, através
de uma configuração enzimática que oscila entre o
ocasional e um estado cognitivo mais permanente. A diológica
entre o ocasional e o permanente define os 'humores', estados
bioquímicos que ordenam ou desordenam nossa sintonia perceptual
no nível individual ou coletivo e estruturam parte de nossas
aptidões cognitiva. É por isso que diante de uma mesma
realidade, diferentes indivíduos podem operar várias
concepções distintas e 'criar' ou construir diferentes
realidades. Por outro lado, estados bioquímicos alterados
provocam percepções igualmente alteradas a que chamamos
delírios e distúrbios da percepção. Exemplo
disso é a intervenção médica nos hospitais
psiquiátricos, com a administração de drogas
capazes de “regular” distúrbios
psicossomáticos. Uma descompensação hormonal,
taxas alteradas de lítio ou a absorção de uma
substância alucinógena provocam perturbações
e mudanças de percepção. Uma baixa
produção de endofina, tanto quanto a
inibição da cadeia dos neurotransmissores que excretam a
serotonina podem nos deixar por assim dizer de mal com a vida,
o que certamente afeta nossa forma de ver o ambiente do qual fazemos
parte. Tal como na atividade sexual, estados cognitivos deserotizados
inibem ou dificultam agenciamentos perceptivos mais intensos e
polifônicos.
Esses argumentos em nada se aproximam de um equivocado biologismo que
se obstina em afirmar a preponderância da estrutura
biogenética sobre as construções culturais.
Entretanto, a repulsa a um tal reducionismo não deve desembocar
num sócio-culturalismo afóbico à qualquer
lembrança da nossa condição biológica. A
esse respeito é exemplar as observações do
etólogo Boris Cyrulnik acerca das atitudes dos cientistas diante
das pesquisas que tratam do inato e do adquirido. “Não sei
estabelecer a diferença entre a ideologia da ciência, a
ideologia na ciência e a ideologia dos cientistas. Todavia,
sempre que uma descoberta biológica confirma as teorias do inato
é imediatamente recuperada por aqueles cujo desejo é
confirmar a desigualdade dos indivíduos e das raças. Pelo
contrário, assim que uma experiência mostra como o
ambiente consegue modificar os nossos metabolismos, os teóricos
do meio apoderam-se dela para consolidar os respectivos sistemas e
desejos de manipulação política” (Cyrulnik,
1993, p. 71).
A separação entre o inato e o adquirido ou mesmo a
relação de predominância ou precedência de um
sobre o outro acondicionam-se nos limites do paradigma da
simplificação que opera, sobre a necessária
distinção, a oposição e
separação, e nunca a dialogia sobre o que é
distinto e diferente. A esse respeito, uma ciência da
complexidade reafirma com propriedade a estranha e inexata
estatística de que se vale Edgar Morin para falar da
condição humana: somos 'cem por cento natureza e cem por
cento cultura'. Tal expressão, que fere frontalmente as regras
da gramática da percentagem, exprime com exatidão a
idéia de uma auto-organização (sempre aberta,
imprevisível e inacabada), ou mesmo de uma simbiose (sempre
conflitual e que supõe necessariamente perdas e ganhos), entre o
que se convencionou chamar os domínios do biológico e do
cultural.
Se partimos desse patamar para problematizar nossa condição de uma natureza culturalizada ou de uma cultura naturalizada,
é correto afirmar também que uma desordem
simbólica radical altera a percepção e a
representação dos fenômenos. Sabemos bem como
estados emocionais intensos e em geral não esperados,
desorganizam momentaneamente nossa relativa estabilidade perceptiva e
distorcem a compreensão dos fatos. Os apelos emocionais
motivados por cenas de filmes que nos tocam excessivamente; momentos
traumáticos que vivemos; situações absolutamente
indescritíveis de prazer intenso ou de violência, para
citar alguns desses estados emocionais, desordenam nossos
padrões cognitivos habituais e nos deixam transtornados, fora de si, nas nuvens, agitados, imobilizados, perdidamente apaixonados
ou sem concentração para qualquer coisa que nos afaste
desse êxtase. Ampliando esse argumento é necessário
acrescentar que a construção do conhecimento comum, tanto
quanto do conhecimento científico, não escapam dessa
dinâmica cognitiva. Nossas ideologias, crença, teorias e
valores estão sempre transpassados por uma rede significante de
vivências e fatos inesquecíveis que operam de maneira
inconsciente e são como que tatuagens invisíveis, apesar
de vivamente operativas. A esse respeito são elucidativos dois
acontecimentos na vida de Edgar Morin. Um mais pontual, descrito e
discutido por ele mesmo e outro mais estrutural, que emerge de uma
reflexão a respeito da relação entre o homem e
parte de sua obra.
O primeiro acontecimento está descrito no livro "Para sair do
século XX" (1986). Lá, entre as páginas 23 e 25,
Morin relata o fato de ter presenciado uma colisão entre um
carro e uma motocicleta, numa avenida de Paris. A
descrição do acidente é bastante matizada no
livro, mas, para os fins que nos interessa aqui, sintetizo o que se
segue. Morin viu, e se dizia testemunha, do fato de que um carro bateu
numa motocicleta quando, na realidade, foi o motoqueiro que,
avançando o sinal, operou a contravenção e
daí o choque entre os dois veículos. Se perguntarmos
porque Edgar “viu” o oposto do que ocorreu, podemos
responder: motivado por uma dosagem desmesurada de
emoção, ele mobilizou convicções,
ideologias, e crenças anteriores a respeito de outras
situações, o que o tornou vítima da armadilha da
percepção. Por conseqüência, sua retina
não enviou a informação correta, ou, se a enviou
corretamente, o seu cérebro “viu” o acidente a
partir de um conjunto de valores e atitudes que caracterizam a nossa
sociedade e contra os quais o observador Edgar se coloca: o fato de que
o grande sempre explora o pequeno, de que a sociedade capitalista se
funda da desigualdade das condições de vida em favor dos
mais poderosos, etc., etc.
Nesse caso, houve uma transposição de premissas e
explicações do âmbito de uma
concepção ampliada do mundo, para o domínio
pontual de um fenômeno. A distorção da
percepção, o 'erro ocular' se deu impulsionado pelo
momento da violência do acidente.
Um certo estado de espírito que produz satisfação,
contentamento, prazer, mas também os estados de fúria,
rebeldia e descontentamento estão sempre na raiz de todo
conhecimento. É pois a partir de estados emocionais que
produzimos mundo-visões, compreensão do mundo, teorias e
interpretações dos fenômenos. Daí porque, a
tomada de consciência de que pulsão, emoção
e razão caminham juntas, pode propiciar ao sujeito do
conhecimento uma certa alquimia mental capaz de transformar as
pulsões de morte em pulsões de vida; a ira e o
descontentamento em proposições harmonizadoras e
mobilizantes; as situações traumáticas, em
ferramentas do conhecimento.
Esse argumento permite fazer alusão ao acontecimento cognitivo,
dessa vez para problematizar o par autor-obra. Volto a Edgar Morin,
para situar uma importante referência entre as várias
contingências psico-afetivas de sua vida em relação
a grande parte de sua obra. A referência é a seguinte:
Edgar tinha nove anos quando morreu sua mãe Luna Beressi, fato
que só veio a saber alguns dias depois por seu pai, Vidal,
enquanto o pequeno “Minou” brincava do lado de fora do
cemitério Père Lachaise. Conta Morin (1994), como passou
a chorar apenas na sua privacidade – em sua cama, debaixo dos
cobertores – e nunca em público. Essa
situação traumática não passou em branco na
construção de seus modelos mentais de dialogar com os
fenômenos da cultura.
Foi certamente à dor intensa e a incompreensão da morte
prematura de Luna, sua mãe (referência feita por ele
próprio, várias vezes em sua obra) que o levou, anos mais
tarde, a investigar e refletir sobre o tema da morte, como um
domínio epistemológico importante para a
compreensão da cultura, do surgimento da arte e do
imaginário, tanto quanto para entender a condição
de emergência e complementaridade entre a consciência
objetiva e consciência subjetiva nos humanos.
Não fosse por essa traumática emoção
causada pela dor, sentimento da falta, surpresa da perda e, acima de
tudo, pelo segredo da morte de sua mãe que teve o gosto amargo
da traição, Edgar Morin não teria escrito O homem e a morte ou, o teria feito mesmo assim, mas motivado por outra obsessão cognitiva ou emoção fundamental.
O que importa reter dessa referência é o fato de como o
sujeito do conhecimento é sempre impulsionado por um sentimento
e por uma estrutura organizacional da sua psique, quando empreende
qualquer investimento cognitivo, mesmo que disso não tenha
consciência. As representações que fazemos emergir
os fenômenos, tanto quanto aquelas que nos permitem imputar
sentidos ao mundo, estão sempre intoxicadas pelos 'humores'
bioquímicos das experiências culturais vividas.
Para além do humano
Mas não é somente a espécie humana que vê o
mundo através de representações. Para compreender
uma certa semiótica da condição do vivo
necessitamos incluir o sapiens-demens
no domínio maior do qual faz parte. Se pois, temos em conta um
conjunto maior de animais, o domínio das
representações como senha de acesso ao mundo exterior
ganha mais destaque. Observemos, pela descrição de
Cyrulnik, as linguagens significativas de animais diferentes, diante de
uma mesma realidade, quer dizer, diante de um mesmo mundo exterior.
“Suponhamos que o homem vê uma rua cheia de casas com
passeios cheios de passantes e uma calçada atulhada de
automóveis. Uma mosca no mesmo lugar, no mesmo momento,
não habita o mesmo mundo. Os significantes biológicos
não são os mesmos para ela. Com seus grandes olhos
facetados, vê amplos obstáculos brancos, a que o homem
chamam “casas”, justapostos a massas negras que fazem
vento, a que o homem chama “carros”. Ficará,
certamente, cativada por um bocadinho de proteínas podres a que
o homem chama “bocado de carne jogado fora”, mas que, num
mundo de moscas, é um objeto portador de significados loucamente
enfeitiçadores. Um molusco, na mesma rua, habitaria um mundo de
sombras secas mais ou menos claras e de profundidades mais ou menos
palpáveis”(Cyrulnik, 1999, p. 22).
Com base nesse exemplo, dirá Cyrulnik que a semiótica
não se reduz ao tratamento de códigos e mensagens.
É fundamental ordenar as informações para compor
uma representação, uma vez que “o que o animal
percebe já é uma representação”.
Todo animal percebe o mundo de acordo com a construção do
seu próprio sistema nervoso. “A partir do cérebro
sensorial, a percepção do mundo já é
seletiva: o sujeito escolhe as informações que melhor
convêm ao seu equipamento biológico”. (Cyrulnik,
1993, p. 46). Nessa escolha do que melhor convém a um
determinado 'equipamento biológico', se funda a diversidade dos
sistemas significativos nas diferentes espécies animais. O
estímulo preferencial do gato é a diferença de
velocidade. O da abelha é a cor. O da coruja é o som. O
do morcego, os ultra-sons. Nada estimula mais uma rã do que uma
gota d'água. Ora, no homem a complexificação dos
estímulos que lhes dizem respeito desafia tanto os estudiosos da
etologia humana, quanto pesquisadores de outros domínios que
falam da condição sapiental-demencial da espécie.
É o próprio Cyrulnik quem alerta sobre o destino que faz
com que o homem seja diferente de uma rã, que, por sua vez,
é diferente de uma borboleta: “o homem engendra um meio
composto pelas suas representações sensoriais, feitas de
imagens, e depois verbais, que estruturam o seu destino de homem e
não de borboletas”. (Cyrulnik, 1999, p. 13).
Desse ponto de vista, se não nos é estritamente
necessário, nem tampouco suficiente conhecer o campo
semiótico que faz de uma rã, uma rã, e de uma
borboleta, uma borboleta para problematizar o domínio
sócio-cultural e representacional dos humanos, é
importante ter em vista uma referência matricial no que tange aos
fenômenos da vida e do conhecimento, e também às
formas diferenciadas de representação e
percepção do mundo em diferentes animais.
É preciso ter em conta além das distinções,
às convergências entre os indivíduos da
espécie humana e deles com outros indivíduos de outras
espécies. Por isso, falar da consciência do corpo no
humano, sem contextualizar o campo mais vasto das experiências da
vida animal é secundarizar a dinâmica da existência
corporal em outras espécies, e tal abordagem tem as marcas do
pensamento simplificador. Uma compreensão mais totalizadora
sobre a contingência simbólica do corpo deve reconhecer um
conjunto de dispositivos, dinâmicas e processos que, dispersos em
outros animais, encontram no sapiens-demens
as condições favoráveis para emergir de maneira
interconectada e convergente, mesmo que tais emergências se
pautem sempre pela dinâmica tensional. Daí porque
não basta o conhecimento filogenético da nossa
espécie, sendo igualmente importante conhecer os fragmentos de
outras historias corporais que nos precederam no tempo e que nos
parasitam, mesmo que sob novos patamares de
reorganização, sem dúvida mais incertos e abertos
porque mais complexos.
Esse é o motivo pelo qual Edgar Morin, em sua obra,
retornará várias vezes à noção de
Mac Lean de que o cérebro humano não só é
portador de um néo-cortex responsável pela racionalidade,
mas também herda do cérebro do mamífero a
afetividade, e do cérebro do réptil o cio, a
agressão e a fuga. É a essa constituição
simbiótica do cérebro, a esse cérebro tri-único,
que Morin recorrerá, insistentemente, para discutir o paradoxo
da condição humana, da vida em sociedade, da cultura e da
construção do sujeito, tanto quanto para falar da
produção do conhecimento e da ciência (Morin, O método v.1, 2, 3, 4).
A história da nossa espécie tem, no corpo, um lugar
privilegiado da lembrança da história de outros corpos
não humanos. Não que a historia de nosso corpo e da nossa
cultura seja o somatório das experiências
reptílicas e mamíferas, acrescidas da razão e da
consciência reflexiva. Nem muito menos uma amálgama
homogêneo desses três domínios da experiência
(cio, afetividade e razão). Trata-se aqui, mais propriamente, de
afirmar o paradoxo do humano pela relação tensional e
instável entre as “três faces de um mesmo
cérebro” conforme argumenta E. Morin em O Paradigma
Perdido (1979, p. 131-133). Tendo por referência outras bases
epistemológicas, o neurobiologista Jean-Didier Vicent
reafirmará o mesmo argumento de que a espécie humana
partilha, com outros animais de essências vitais comum. Em
entrevista concedida a Guitta Pessis-Pasternak, afirmará Vicent:
“o que faz o homem não é somente o tamanho do
néo-cortex, mas o fato de que o resto também se encontra
lá. Refiro-me aos “humores” fundamentais que regulam
as paixões que se encontram tanto no escargô do mar, na
levedura de cerveja, como no ser mais evoluído”. (J. D.
Vicent, apud Pessis-Pasternak, 2001, p. 205)
Faz sentido portanto subsumir a compreensão do humano no
domínio mais ampliado da etologia animal, desde que entendamos
por etologia “o estudo do repertório comportamental que
caracteriza uma espécie e sua maneira de viver num dado
meio”, como quer Cyrulnik. “Já não se trata
de separar o homem da natureza e de o opor ao resto dos seres vivos:
trata-se, pelo contrário, de lhe atribuir o seu lugar no que
é vivo e de tornar observável como a
semiotização dos sentidos lhe permite afastar-se,
gradualmente, de um mundo impregnado no percebido, para habitar um
outro mundo enfeitiçado pelo desapercebido”. (Cyrulnik,
1999, p. 30). Entretanto, longe de nos espelharmos numa rã ou
num morcego e, distante do artifício da analogia, devemos
compreender nosso corpo como simultaneamente a repetição
e a distinção, a proximidade e o distanciamento, a
renovação e a transcendência em
relação a experiências de outros corpos que nos
precederam na história da vida. Aqui o artifício
adequando é sempre a comparação, nunca a analogia,
assevera Cyrulnik. “Os animais nos oferecem o artifício
comparativo que fornece a tomada de consciência de porque agimos
como agimos. Isso é fundamental para a compreensão da
espécie, uma vez que não podemos pensar em nós
mesmos em termos científicos. Experimentemos dizer: 'esta noite
estou triste porque a secreção das minhas catecolaminas
baixou um pouco'”. (Cyrulnik, 1993, p. 15). A impossibilidade de
auto-percepção do sujeito cognoscente assinalada por
Cyrulnik, se situa, evidentemente, no limite da relação
antagônica e complemantar entre o biológico e o cultural,
entre o químico e o psicoquímico, entre a natureza e
cultura.
Uma tal impossibilidade cognitiva pode ser problematizada também
em relação ao processo de conhecimento de forma mais
lata. Desse modo, toda produção de saber requer,
necessariamente a exo-referência como condição
mesma de explicar e compreender o endógeno. Assim é que,
entendemos pelo artifício do lá fora, o que se processa no aqui dentro,
e isso porque o universal e o particular se engendram pela
dialógica da unidimensionalidade humana. Em outras palavras, se
não podemos dizer “hoje estou triste porque estou
secretando pouca catecolaminas” podemos observar que o que ocorre
com os outros é passível de ocorrer conosco. Em
síntese, na impossibilidade cognoscente da qual fala Cyrulnik em
relação ao sistema humano perceber-se a si
próprio, por si só, pode estar, em parte, o nó
górdio do processo de conhecimento. Só posso me perceber
pelo conhecimento exterior, pelo sentido que empresto a determinada
dinâmica que ocorre fora de mim. Quer dizer: 'se ele morre, eu
vou morrer também', 'se ele padece das dores da paixão,
saberei eu que sofro de amor quando tal dor me acometer'. Igualmente:
se tenho conhecimento de que a redução da dopamina ou de
lítio provoca os estados depressivos, cuido eu, aos primeiro
sintomas, de aferir num laboratório como andam as minhas taxas...
Esse fato, que traz embutido o problema de uma epistemologia
fundamental talvez permita reatar os elos que separam os sentidos do eu
e do outro. O corpo que conhece a si, conhece por intermédio do
outro passando o outro a ser, portanto, uma extensão do eu, o
lugar onde o sujeito ao se ver refletido, se reconhece, em fato ou em
potencial. Certamente essa forma de falar da natureza do processo
cognoscente se distancia dos prontuários teóricos do
relativismo que defende a lógica unitária da
diferença e da singularidade extrema. Ao contrário, o que
se discute aqui são as bases de uma natureza do conhecer que
supõe um fraca distinção entre o eu e o outro,
à partida, o que impossibilita a auto-percepção
sem a presença do que está fora, do outro. É por
isso que a condição corporal e o corpo para se conceberem
como tal, precisam do outro corpo para operar uma recursividade
cognoscente.
De outra parte, para falar da consciência do corpo é
necessário lembrar que o longo e complexo processo
epigenético da espécie humana enfrequece a
hipótese de que há um ponto zero a partir do qual surge
um corpo que se vê e se sente como tal. Distante da ciência
e fazendo uso fortemente das metáforas, essa
concepção da emergência pontual da
consciência aparece, por exemplo, na versão bíblica
da origem do mundo. Quando Deus cria o primeiro homem, de forma
imediata e após a modelagem do seu corpo, ele lhe sopra o
espírito. Adão passa nesse momento a ter
consciência do seu corpo tanto quanto o conhecimento sobre sua
finalidade. E é justamente porque Adão quebra as regras
da finalidade corporal imposta pelo demiurgo, que o corpo ganha novo
sentido a partir de então. Dar-se-ia assim a emergência da
espécie humana pelo nascimento do corpo. É interessante
observar que mesmo na narrativa bíblica (como de resto em
qualquer dispositivo mítico marcado pelo magnífico
excesso da síntese) a passagem para uma segunda
consciência do corpo exemplifica a ambivalência da
existência corporal: o corpo que antes era uma expressão
do criador, uma companhia para que o demiurgo não se sentisse
só, passa a ser, com a transgressão da regra, um corpo
simultaneamente para o trabalho e para o prazer; um corpo ao mesmo
tempo real e virtual que padece da condição de finitude,
mas transcende a morte pela repetição da
reprodução da espécie.
Se há uma consciência do corpo sobre si mesmo a ser
delineada e perseguida, a identificação dessa
consciência requer uma compreensão mais humilde da
condição humana. A condição humana é
uma contingência da vida que se expressa pelo corpo. Sendo assim,
o corpo é um fragmento da dinâmica da vida que, ao mesmo
tempo em que o constitui, dele se utiliza como um dos elos da teia da vida.
Tudo depende da representação que temos ou que tenhamos
do corpo, da existência corpórea, da
condição humana. “Se nos treinarmos a pensar a
condição humana como um corpo capaz de produzir um mundo
virtual e de o habitar sentindo-o realmente, o corpo, o meio ambiente e
o artifício serão concebidos como um conjunto funcional:
um indivíduo poroso, penetrado por um meio sensorial, que
estrutura o artifício”. (Cyrulnik, 1999, p. 14). É
essa condição de porosidade que permite reatar a
ligação entre natureza e cultura, quer dizer, entre a
matéria viva e o campo semiótico de sua expressão.
A cosmogonia do corpo
Voltemos ao mito de Adão destacando três
elementos fundamentais – o paraíso, o pecado original e o
castigo. A partir daí pensemos sobre a hipótese de que a
consciência do corpo é a lembrança e a
reatualização da cosmogonia da vida e da morte. E isso,
tanto nos territórios míticos quanto nas
fabulações da ciência.
Sabemos que a versão original do mito bíblico descreve o
paraíso como o lugar onde o homem não padecia de
necessidades, onde não havia miséria. Fala também
da transgressão da regra pelo fato de Eva e Adão comerem,
por sugestão da serpente, o fruto proibido, o que constitui o
pecado original. E, por fim, descreve a expulsão do casal do
Paraíso, como castigo pela desobediência ao criador. Essa
síntese da narrativa bíblica não nos acrescentaria
nada, se não fosse a reinterpretação radical de
dois filósofos alemães: Schelling, no início do
século XIX e Dietmar Kamper no final do século XX.
Kamper problematiza a expulsão de Adão e Eva do
Paraíso. Seguindo o mesmo caminho de Schelling ao imprimir valor
positivo ao pecado original, (para ele a fonte de florescimento de toda
cultura) dirá Kamper que Adão fugiu do Paraíso.
“Afinal de contas, o Paraíso deveria ser um lugar
entediante...” (1997, p. 21). Acontece que esse mesmo desejo de
liberdade e de falta, e esse ato de fugir de um lugar chato e
entediante, vêem acompanhados de várias maldicões
divinas. Dirá Deus a Adão: “você
comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que
volte a terra, pois dela foi tirado. Você é pó e ao
pó voltarás” (Gênesis, 3, 19). Essa dura
sentença cria simultaneamente o trabalho, o corpo para o
trabalho e o corpo para a morte. Entretanto, ela é mais
desafiante e perversa no caso do destino projetado para a mulher.
Além das “dores do parto” promete Deus que “a
paixão arrastará a mulher para o marido que a
dominará”. (Gênesis 3, 21). Ora, os prazeres do sexo
estarão doravante, no caso da mulher, ligados à dor. E
mais: a paixão e a dominação caminharão,
nessa representação sempre juntas, como se fossem uma
espécie de lei da gravidade amorosa que atrai os corpos para
sujeitar os sentimentos. Dessa forma, o denso paradoxo das
condições que permitem a emergência do corpo, quer
dizer, o nosso nascimento como espécie, é gestado e
reatualizado permanentemente por uma certa cosmogonia da qual é
impossível escapar.
Como sabemos, a idéia de cosmogonia diz respeito entre outras
coisas, a um sacrifício cósmico. Nessa
acepção, a criação de formas e
matérias só se dá por meio de uma
modificação de uma energia anterior e primordial. Ora, se
consideramos o paradoxo da narrativa bíblica, (liberdade como
sujeição ao trabalho, mortalidade e dor) podemos dizer
que a maldição e as profecias descritas equivalem ao
sopro do criador que permite jorrar em nós uma consciência
igualmente paradoxal. Assim, o sacrifício cósmico da
condição corporal engendrará uma consciência
que se alimenta ao mesmo tempo da liberdade e da
sujeição. A dinâmica da unidualidade e dialogia
expressa pelo par liberdade-sujeição, acaba por excretar
ontem como hoje, um corpo ciente de que a astúcia de enganar aos
deuses desemboca no trabalho como castigo. Numa síntese
exuberante dirá Dietmar Kamper: “A liberdade do
espírito e do intelecto foi adquirida ao preço da
não liberdade do corpo humano”. (Kamper, op. cit. p. 22).
Como se fosse para repetir o mito, outras configurações
do saber, outras representações, descrevem a mesma
cosmogonia tatuada na história do corpo humano. Se
pudéssemos falar de uma ciência da natureza,
diríamos que o nascimento da idéia de corpo nos humanos,
está ligada ao débito impagável que o homem
contraiu com todas as outras matérias e sistemas vivos. A
cosmogonia do corpo, isto é, o seu nascimento, se dá por
uma mudança de direção no processo de
acumulação de conhecimento da espécie humana. Como
sabemos, todos os outros animais possuem corpo; se valem dele para
desempenhar as funções de sobrevivência,
reprodução e delimitação de
território. Cuidam do próprio corpo e protegem os corpos
de seus filhotes. Alguns desses animais cuidam ritualisticamente do
corpo morto de um dos seus, como fazem, por exemplo, os elefantes. Esse
débito impagável, gerador de uma falta ansiogênica
fundamental é o que faz com que, na espécie humana, a
vida e a consciência do corpo operem um ponto de bifurcação, uma mudança de direção rumo a uma maior complexidade.
Gestado e tecido numa metamorfose dolorosa que abriga
mutilação e perda, luta e sacrifício,
repetição e desregramentos, o nosso corpo é um
coágulo de sentidos que retêm, mas ultrapassa, as
lembranças mais arquetípicas acumuladas pela
experiência corporal de outras espécies animais. No campo
tensional entre reter e ultrapassar padrões de
lembranças, o corpo dos humanos reatuliza e ritualiza a
dialógica entre ganhos e perdas. O que se ganha em complexidade
e simbolização equivale a perdas no domínio dos
instintos. É por isso que a condição humana,
demasiadamente humana, ou seja, o afastamento excessivo e a
negação de tudo o que é supostamente estranho ao
homem, pode significar a bestialização dos instintos.
Distanciando-nos excessivamente das raízes não humanas,
não sabemos por vezes como domesticar, de forma parcimoniosa e
simbólica, atributos que concernem a vida. Somos, por isso,
às vezes, promotores de atrocidades societais
inimagináveis. As aberrantes explosões de
violências sociais de toda ordem na sociedade
contemporânea, deixa entrever a dificuldade de
ritualização e simbolização da
agressividade animal. A dinâmica entre perdas e ganhos, entre
instinto, pulsão e razão que está nos fundamentos
de nossa existência corporal, se constitui por meio de um
movimento pendular, instável e aberto. Trata-se de um jogo
compensatório (aumento de
simbolização/regressão dos instintos) longe do
equilíbrio e da harmonia plena que constituem o domínio
da morte. Ao contrário, tudo evoca tensão,
tendência ao desequilíbrio, à relação
conflitual e à posterior reorganização em novos
patamares de complexidade crescente ou de regressão.
É preciso dizer também que a consciência do corpo
tem seu nascimento no âmbito de um processo ansiogênico e
perturbador. Ela aparece como uma maneira de dialogar, de se contrapor
e de resolver o fenômeno da finitude da espécie: a morte
individual e do grupo. A consciência do corpo é pois uma
outra forma de falar do horror da morte.
Os estudos que tratam da infância de nossa espécie,
assinalam que por volta de 1,3 milhões de anos, na Ásia
Oriental, os homens conservavam os crânios dos mortos,
envolvendo-os numa camada de argila. Esse rito permite inferir que os
homens dessa época já pensavam o corpo como a morada do
espírito e creditavam ao cérebro a sua parte mais nobre.
Em "O homem e a morte" (1997) Edgar Morin constrói os patamares
epistemológicos para compreender o papel da idéia de
morte na cultura humana. Para ele, o enfrentamento do fenômeno da
morte permitiu a emergência e o nascimento de uma dupla
consciência. De uma parte, a consciência da morte, a
certeza da finitude do corpo. De outro, a negação dessa
certeza pelo surgimento de um fabuloso imaginário que cultua a
transcendência e a imortalidade. Como a dupla face de uma mesma
moeda, essas duas experiências cognoscentes que se opõem e
se complementam gestaram um corpo capaz de se perceber ao mesmo tempo
finito e infinito, real e imaginário, perecível e
transcendente, natural e cultural. É no interior do paradoxo
entre a certeza da morte e sua negação que os humanos
construirão sobresentidos que os distinguirão de outros
animais. Isso porque, segundo Morin, a espécie humana é a
única para a qual a idéia da morte está presente
durante toda a vida; a única que crê na
sobrevivência ou renascimento dos mortos; a única que faz
de tudo para retardar a morte. E, se esse sentimento de horror a morte
emerge de forma diversa de cultura para cultura, não deixa de
ser verdade que a idéia de morte parasita a
construção da vida social, desde as tecnicidades
até os ideários míticos, científicos ou
religiosos.
É pois do interior do campo de interseção entre
natureza e cultura que é possível problematizar o
domínio do propriamente humano, para compreendê-lo como um
fenômeno de hipercomplexidade que emerge no campo tensional entre
outros sistemas que lhes precederam no tempo e ainda o parasitam, mesmo
que sob novas condições. Toda reconstrução
do exclusivamente humano é uma simplificação, uma
teleologia antropocêntrica, um narcisismo sem
sustentação. Fazer o caminho epistemológico da
cultura para natureza talvez permita uma compreensão mais
complexa da natureza humana. A partir daí poderemos compreender
a relação dos campos de sentido que fazem de uma
rã, uma rã, de uma borboleta, uma borboleta, de um
humano, um humano.
BIBLIOGRAFIA REFERIDA
ATLAN, Henri. Viver e conhecer. In: CRONOS. Revista do
Programa de Pós-graduação em Ciências
Sociais. n. 4. V. 1. Complexidades I: caminhos. UFRN. Natal, 2002
(prelo).
ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
KAMPER, Dietmar. O trabalho como vida. São Paulo: Annablume, 1997.
MORIN, Edgar. O paradigma perdido: para uma nova antropologia. Rio de Janeiro: Zahar Editores, (2. Ed.), 1979.
____. O homem e a morte. Rio de Janeiro: Imago, 1997.
____. Para sair do século XX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
____. O método I – a natureza da natureza. 3. ed. Lisboa: Publicações Europa-América, 1997.
____. O método II – a vida da vida. 3. ed. Lisboa: Publicações Europa-América, 1999.
____. O método III – o conhecimento do conhecimento. Lisboa: Publicações Europa-América, 1996.
____. O método 4 - As idéias. Porto Alegre: Sulina, 1998.
____. Vidal e os seus. Portugal: Instituto Piaget, 1994.
CYRULNIK, Boris. Do sexto sentido: o homem e o encantamento do mundo. Lisboa: Instituto Piaget, 1999.
____. Memória de macaco e palavras de homem. Lisboa: Instituto Piaget, 1993.
VICENT, Jean Didier. A biologia das paixões ou como opera o cérebro hormonal. In:.PESSIS-PASTERNAK, Guitta. A ciência:deus ou o diabo. São Paulo: Unesp, 2001.
Notas
1. Doutora em Ciências
Sociais (Antropologia) pela PUC-SP. Professora dos programas de
Pós-graduação em Educação e
Ciências Sociais da UFRN. Membro da Associação para
o Pensamento Complexo. Coordenador do Grupo de Estudos da Complexidade
- Grecom - Natal/UFRN. E-mail: calmeida17@hotmail.com.
Volta
CEI - UNIR
Todos os Direitos Reservados.